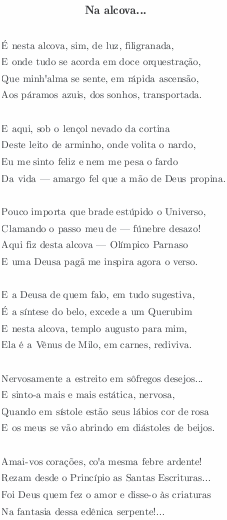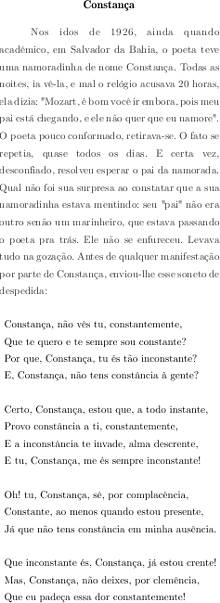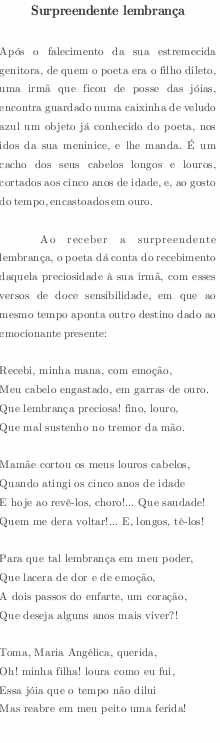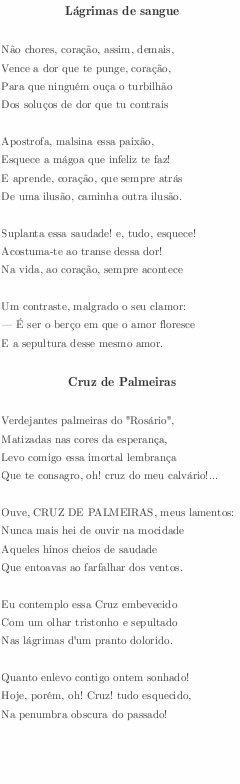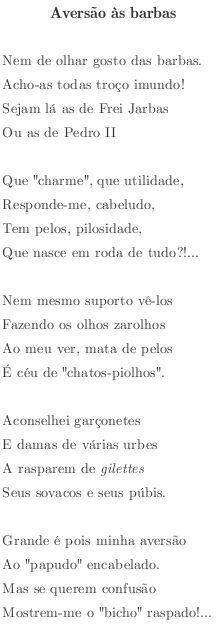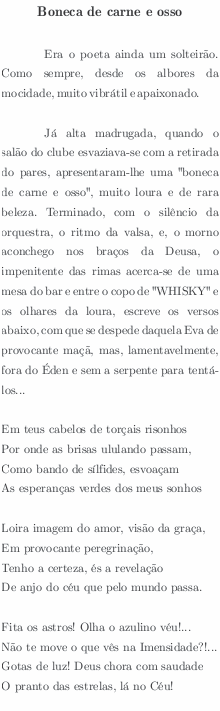Quem nunca se riu daquela bicharada toda, feito gente, na música Siri jogando bola, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas? Pois digo que o antropomorfismo da fauna sertaneja, com o propósito de fazer rir, não é novidade em poesia. No séc. XIX, poetas populares do quilate de Firmino Teixeira do Amaral e de Leandro Gomes de Barros, além do famoso repentista Luís Dantas Quesado, idolatrado por folcloristas, e de outros poetas menos conhecidos, já haviam composto verdadeiras gemas do pictórico poético da animalada sertaneja.
Quem nunca se riu daquela bicharada toda, feito gente, na música Siri jogando bola, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas? Pois digo que o antropomorfismo da fauna sertaneja, com o propósito de fazer rir, não é novidade em poesia. No séc. XIX, poetas populares do quilate de Firmino Teixeira do Amaral e de Leandro Gomes de Barros, além do famoso repentista Luís Dantas Quesado, idolatrado por folcloristas, e de outros poetas menos conhecidos, já haviam composto verdadeiras gemas do pictórico poético da animalada sertaneja.
Não me arrisco a supor que os dois compositores a que fiz referência tenham sido, de certo modo, influenciados por esses menestréis do sertão. Talvez tenham entrado em contato com algumas décimas desses vates, tamanha a similaridade da composição dos bichos e suas atitudes, humanadas. Vale lembrar que Zé Dantas, além de compositor e poeta, também era folclorista, o que torna a hipótese ainda mais provável.
Vejam vocês essas décimas de autoria atribuída a Luís Dantas Quesado, registradas pelo folclorista cearense Leonardo Mota:
| Vi um teú escrevendo, |
| Vi um quati marceneiro, |
| Vi um peba fogueteiro |
| Vi um peixe de chocalho, |
| Vi mosca batendo sola, |
| Vi um morcego oculista |

Outro poeta que tratou dos bichos que falam, como intitulou Leota um dos capítulos do Violeiros do Norte, de onde retirei a passagem, foi o vate Jacó Passarinho, cantador cearense, de Mutamba, cuja décima está registada abaixo:
| Eu vi um lacrau de dente |
Outro registro, de semelhante valor pitoresco, coletado pelo folclorista, são estas duas décimas do cego José Tenório:
| Vi minhoca destemida |
| Da venta dum mucuim |
Se vasculharmos mais fundo no baú da literatura de cordel, certamente aparecerão outros casos parecidos. A parte inicial do capítulo Os bichos falam, do livro Violeiros do Norte, de Leonardo Mota, pode ser lida no saite Jangada Brasil, através deste linque.
(fonte: MOTA, Leonardo. Violeiros do Norte. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Cátedra; Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1976. 259 págs.)